Estamos acostumados a enxergar as histórias sobre a "conquista" das grandes civilizações do continente americano pelo prisma de uns poucos confrontos decisivos e épicos. Fica a impressão de que, em 1521 e 1532, respectivamente, aventureiros como Hernán Cortés e Francisco Pizarro derrotaram os astecas e os incas e decretaram o fim dos impérios indígenas de uma hora para outra. Dali por diante, a história colonial do México e do Peru começava irrevogavelmente, e nada mais seria como antes.
Esse tipo de fotografia do passado, é claro, não passa de ilusão, ou, no mínimo, de simplificação grosseira. E um jeito fascinante de mostrar que a transformação foi muito mais gradual do que se imagina vem do próprio ambiente –das espécies de plantas e animais, do solo e das águas que cercavam os antigos impérios.
É o que revela um novo estudo sobre o Império Inca, o qual indica ainda que, com o avanço da influência dos invasores espanhóis, a agricultura peruana se tornou menos produtiva e complexa, ao contrário do que as expectativas eurocêntricas muitas vezes sugerem.
O trabalho que traça esse quadro saiu recentemente na revista especializada Antiquity e é assinado pelo arqueólogo Raymond Alexander Hunter, da Universidade Brown (EUA). Hunter analisou as transformações ambientais nos sistemas de plantio e irrigação de Ollantaytambo, localidade próxima à antiga capital inca, Cusco.
Ollantaytambo era uma das grandes propriedades dos membros da linhagem real inca, com construções em pedra de diferentes tipos e um sistema sofisticado de intensificação agrícola.
Na altitude de cerca de 2.800 m, os rios que desciam de áreas ainda mais altas dos Andes foram domados por meio de uma série de reservatórios e canais, ajudando a irrigar vastas lavouras de milho e outros cultivos. Para melhor controlar o fluxo da água e evitar a erosão, foram construídos diversos andares de terraços nas encostas, junto com muros de contenção.
Colunas e Blogs
Receba no seu email uma seleção de colunas e blogs da Folha
Em algum momento após a chegada de Francisco Pizarro e seus capangas em 1532, o sistema acabou sendo abandonado em larga medida. Um dos reservatórios de água, por exemplo, encheu-se de sedimentos. Isso, porém, permitiu que arqueólogos como Hunter reconstruíssem como foi o processo de "tapamento" do lago artificial e de abandono dos canais e terraços, graças, por exemplo, à presença de grãos de pólen nas camadas dos sedimentos e à datação de tais camadas.
Os resultados dessa análise são intrigantes. Ao que parece, o sistema agrícola intensivo continuou a funcionar por décadas depois da queda dos imperadores incas, sendo abandonado apenas na virada do século 16 para o 17. É nessa época que o pólen de milho quase some dos sedimentos, enquanto o de batata se torna mais comum –o que faz sentido, já que, naquele ambiente mais frio e seco, não era possível ter milharais sem irrigação.
Há ainda sinais do aparecimento de plantas rasteiras que só aparecem em solo desmatado e perturbado –provavelmente pela diminuição de áreas cultivadas e introdução de animais como bois, cabras e ovelhas, cuja presença bagunçou os antigos terraços e canais.
Uns poucos latifundiários espanhóis e seus rebanhos tomaram conta de boa parte do antigo jardim dos incas –e a produtividade despencou.

.png) há 1 semana
4
há 1 semana
4






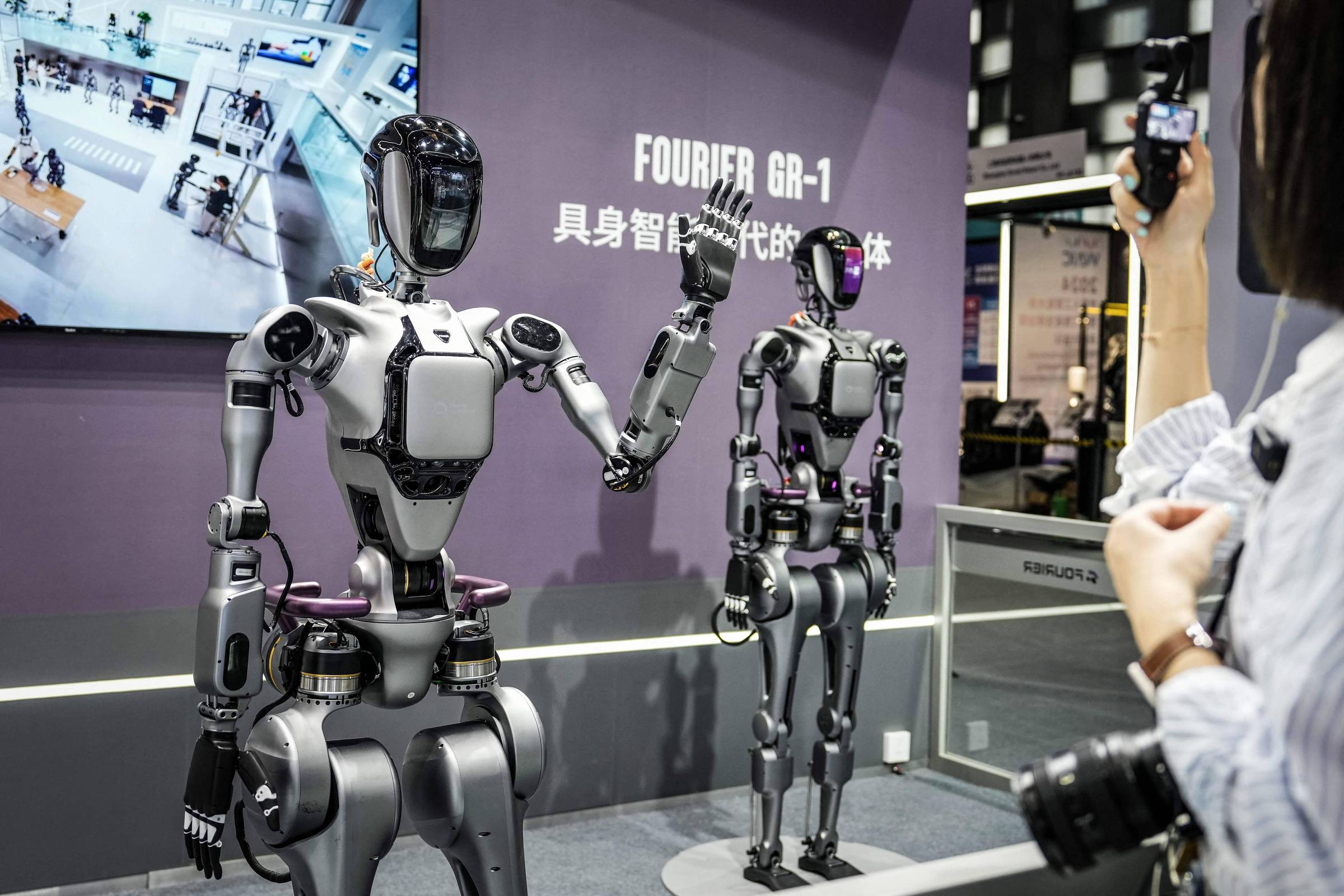

 English (US) ·
English (US) ·  Portuguese (BR) ·
Portuguese (BR) ·