Um pai é morto brutalmente por militares. Sua família luta por justiça, mas a verdade permanece abafada pela impunidade. Rubens Paiva? Não, Evaldo Rosa, fuzilado com 257 tiros por militares do Exército no Rio de Janeiro em 2019. Os responsáveis foram julgados e absolvidos. Para preto, pobre e favelado, a história não vira livro, não vai ao cinema, e as memórias são apagadas em canos de fuzis. Em "Ainda Estou Aqui", o silêncio é simbolizado por Zezé, vivida pela atriz Pri Helena, a empregada doméstica. Ela serve, observa, participa da dor, mas desaparece. Sem voz, sem história, sem despedida.
Entendo que "Ainda Estou Aqui" não tem a proposta de ser uma análise sobre negros na ditadura. O filme foca em Eunice Paiva, interpretado por Fernanda Montenegro, uma mulher central para os direitos humanos no Brasil. Após perder o marido, o ex-deputado Rubens Paiva, ela dedicou sua vida a lutar pela memória dos desaparecidos e pelas reparações às vítimas do regime. É inegável sua importância histórica. Mas por que não surgem Eunices aos montes nas periferias? Simples: O modus operandi da ditadura nas favelas nunca acabou. Perseguição, tortura e morte fazem parte do cotidiano periférico desde que a primeira caravela atracou no Brasil.
Entre 1962 e 1974, auge da ditadura no Brasil e quando o filme se passa, mais de 140 mil pessoas foram removidas de áreas valorizadas do Rio, como a Lagoa e o Leblon, sob o pretexto de modernização urbana, em um processo que beneficiou a especulação imobiliária, a classe média e reforçou a repressão estatal. Quando tudo estava ainda bem para a família Paiva, que morava no Leblon, negros e pobres era tirados dos seus lares e silenciados.
Essa seletividade não é nova. "Que Horas Ela Volta?" tenta abordar as hierarquias sociais por meio de Val, mas o faz sob a lente de uma cineasta que imagina o que sua empregada que a serve há anos sente e vive. Em "Marighella", a resistência armada vira um espetáculo heroico, mas ignora as bases operárias e sindicais. A periferia é cenário. A figura de Zezé é tratada da mesma forma: uma peça descartável em um tabuleiro que nunca foi feito para ela.
A ditadura militar não foi só sobre tortura em porões. Foi sobre o terror cotidiano nas favelas: remoções forçadas, toques de recolher implícitos, jovens desaparecidos. E essa engrenagem nunca parou. Em 2024, as mortes cometidas por policiais cresceram 78,5% em São Paulo, reflexo direto de uma lógica que criminaliza e extermina corpos negros. Zezé desaparece no filme porque essa é a realidade de quem vive nas margens: silenciado antes de poder reivindicar qualquer espaço.
O cinema brasileiro prefere retratar as favelas como cenários de violência, enquanto as histórias da classe média recebem profundidade e complexidade. "Cidade de Deus" e "Tropa de Elite" ilustram essa visão, focando na criminalidade e na brutalidade policial. Já filmes como "O Som ao Redor" mergulham nas nuances e dilemas da classe média.
Essa disparidade privilegia histórias da classe média, enquanto simplifica ou ignora as vivências das periferias, reduzindo-as a estereótipos ou cenários de violência. O cinema brasileiro precisa romper com essa lógica, mas como fazê-lo, se quem escreve e dirige grandes filmes vive em uma lógica aristocrática, onde o único referencial periférico continua sendo a favela ou a empregada Zezé?
Não é sobre o filme do momento, mas do que realmente importa: por que para nós sobra apenas a estética de vilão, quando temos muito mais a oferecer? Seguimos vendo apenas uma parte da realidade — a do outro, como eles vivem e como acham que vivemos. É preciso lembrar: a sétima arte brasileira, em geral, odeia a favela, o negro e o pobre. Seu caminho é perpetuar o apagamento histórico, e isso precisa ser rompido.

.png) há 2 dias
1
há 2 dias
1

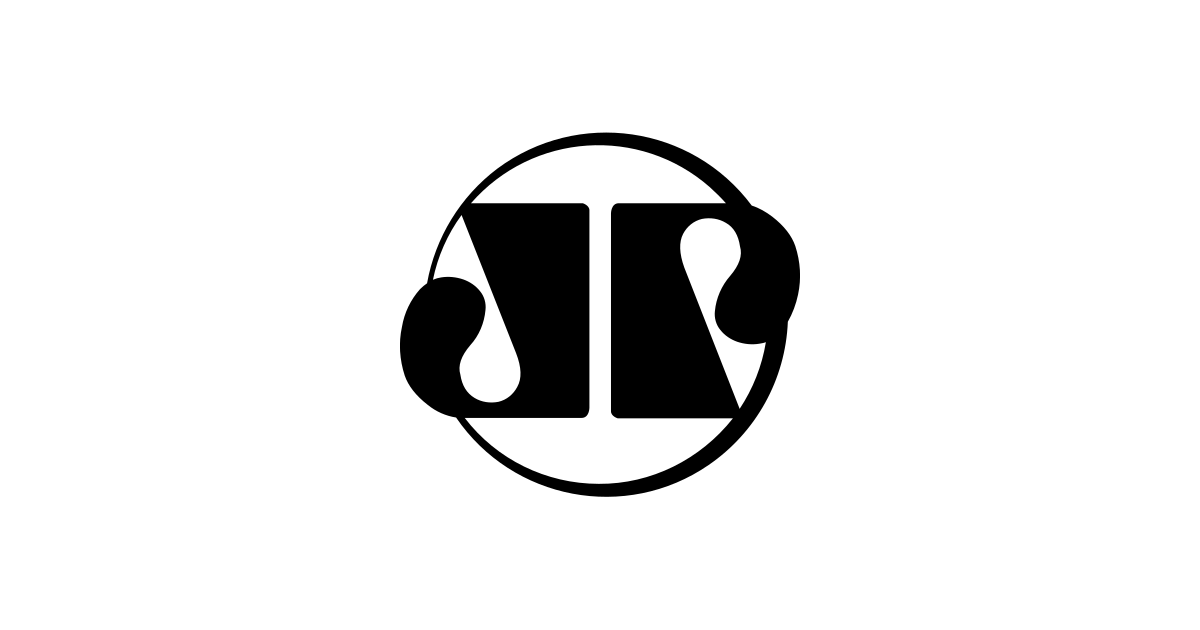






 English (US) ·
English (US) ·  Portuguese (BR) ·
Portuguese (BR) ·