Em certo momento de seu show no Lollapalooza, evento que foi da última sexta-feira até este domingo, em São Paulo, o cantor Benson Boone parou para conversar sério com a plateia. Contou a história de uma música que o ajudou num momento difícil e disse que, embora amasse seu celular, preferia que quem o estava vendo guardasse o aparelho. "Eu sou um performer", ele disse. "Me deixem performar para vocês."
O público, que estava de frente para um artista que estourou justamente via tela de celular, com a faixa "Beautiful Things" espalhada por perfis do TikTok, não gostou da ideia. Pouco a pouco, milhares de lanternas se acenderam, erguidas para o alto, e outros telefones foram levantados para gravar aquelas luzes que causavam um efeito bonito no palco do Autódromo de Interlagos.
A cena diz bastante sobre esta edição do Lollapalooza. O evento americano desembarcou há 13 anos em São Paulo com uma proposta de abastecer o Brasil com uma fatia alternativa da música que ainda não tinha um festival para chamar de seu por aqui.
Agora, num mundo regido por algoritmos, faz concessões a eles para atrair público e tentar vender ingressos. É natural que o festival tente se adaptar aos tempos modernos, mas, à maneira que foi feito na edição de 2025, não dá para dizer que funcionou.
Na prática, o evento montou um line-up pouco empolgante, com seu miolo preenchido por atrações que tiveram uma grande música que explodiu há um ou dois anos no TikTok, nas "trends".
Foram os casos de Boone, que fez um show tecnicamente bom, mas com pouca personalidade; Tate McRae, que entregou bem mais na dança que nos vocais, e também de nomes menores, como Nessa Barrett e Artemas —todos com milhões de "plays" na manga.
Suas apresentações empolgaram em níveis variados o público, mas todas tiveram plateias menores do que artistas que tocaram nas mesmas faixas de horário em edições anteriores.
Não é que a geração desses artistas careça de ídolos —e este mesmo Lollapalooza mostrou o contrário. Olivia Rodrigo, Girl in Red, Parcels e The Marías, para lembrar alguns, fizeram shows que conseguiram criar a atmosfera clássica do evento, com clima de que algo autêntico acontecia ali.
A primeira delas, aliás, fez a apresentação mais lotada da edição, que energizou o autódromo na fatia mais roqueira e deixou uma legião de adolescentes aos prantos nas partes melódicas. O melhor exemplo, no entanto, ficou escondido no menor palco.
Na tarde do último dia, a dupla argentina Ca7riel e Paco Amoroso fez o show mais interessante da edição —e a carreira de ambos decolou justamente neste ano, no TikTok, com cortes de sua apresentação no projeto americano TinyDesk, do YouTube, rodando a plataforma chinesa. Não é como se esses artistas estivessem inventando a roda —eles apenas não soam como um pastiche.
Na produção de música atual, há nomes bem-sucedidos que não passam no filtro do TikTok, como há outros tantos que são febre nos vídeos curtos mas não passam no filtro do palco. Isso não tem só a ver com técnica, mas com o impacto causado nas plateias —a capacidade de prender a atenção por mais tempo.
A impressão no Lollapalooza foi a de que o recorte desses artistas gestados nas redes sociais não tem identidade artística o suficiente para resistir a outro filtro mais criterioso —o do tempo. Nesse sentido, o evento teve shows de músicos com obras que se mantêm poderosas no palco.
Alanis Morissette fez um dos melhores shows desta edição do Lollapalooza sem muitas estripulias, apenas no gogó e no repertório baseado no disco "Jagged Little Pill", de 30 anos atrás. Ela soou espontânea como se estivesse tocando com amigos na garagem, e isso foi suficiente para segurar a plateia de milhares de pessoas.
Marina Lima, a artista brasileira de mais cacife a tocar nesta edição, mostrou versões repaginadas de seus clássicos e convidou Pabllo Vittar, numa apresentação que merecia ter ganhado um horário mais à sua altura.
Justin Timberlake, que encerrou o evento no domingo, foi outro que surpreendeu —embora não tenha lançado nada de relevante desde 2016. Fez um show com repertório de calibre, que ajudou a relembrar a história de um pop feito em outros tempos.
No mesmo dia, Tool e Sepultura fizeram do Lollapalooza um refúgio da música pesada. A banda americana estreou no Brasil com um show consagrador para uma plateia que parecia viver o melhor momento de sua vida. Já os brasileiros, em despedida, deram uma surra de decibéis enquanto o público não parava de pular nas rodinhas de bate-cabeça.
Quando foi criado nos Estados Unidos nos anos 1990, o Lollapalooza surgiu do caldo da música alternativa que despontava. Aquela década foi marcada por uma quebra do pop exuberante da década de 1980, substituído por uma música despojada e heterogênea —o guarda-chuva "alternativo" vem justamente da dificuldade de rotular a produção.
Tanto que, até hoje e mesmo no Brasil, o festival não se limita a apenas um ou outro gênero musical, ainda que trabalhe mais diretamente com rock, pop, rap, eletrônico e as suas adjacências.
Ao longo dos anos, lá fora e aqui, o Lollapalooza se tornou uma marca gigante e de forte apelo comercial, e passou a escalar artistas do mainstream insosso até para aplacar a necessidade de desovar sua carga de ingressos.
Agora, o Lollapalooza precisa lidar com um novo tipo de mainstream, artistas que se popularizam impulsionados pelos algoritmos. Essa peneira parece mais homogeneizante quando comparada com as dinâmicas de rádio, MTV e da internet nos anos 2000.
Se a ideia era aproveitar a popularidade digital para vender ingressos, não deu tão certo. O autódromo pareceu mais vazio que em anos anteriores, em especial no sábado, quando Shawn Mendes encerrou a programação com um show esforçado para uma plateia com a mesma característica de praticamente todas as outras desta data —espaçada e tímida.
Nem mesmo as ações de patrocinadores, que via de regra geram filas nesses megafestivais atuais, estiveram muito prestigiadas.
Para os próximos anos, fica o desafio de como o Lollapalooza vai se posicionar diante deste cenário, que inclui também o dólar alto, obstáculo na contratação de estrelas internacionais e fator de aumento no preço dos ingressos.
Há margem para melhora. Um autódromo menos lotado gera uma experiência mais confortável. Se não for para vender ingressos a qualquer custo, que pelo menos as atrações estejam mais alinhadas ao DNA do festival —heterogêneo e alternativo, em busca de algo que não vá ser engolido pela próxima "trend".

.png) há 1 dia
4
há 1 dia
4


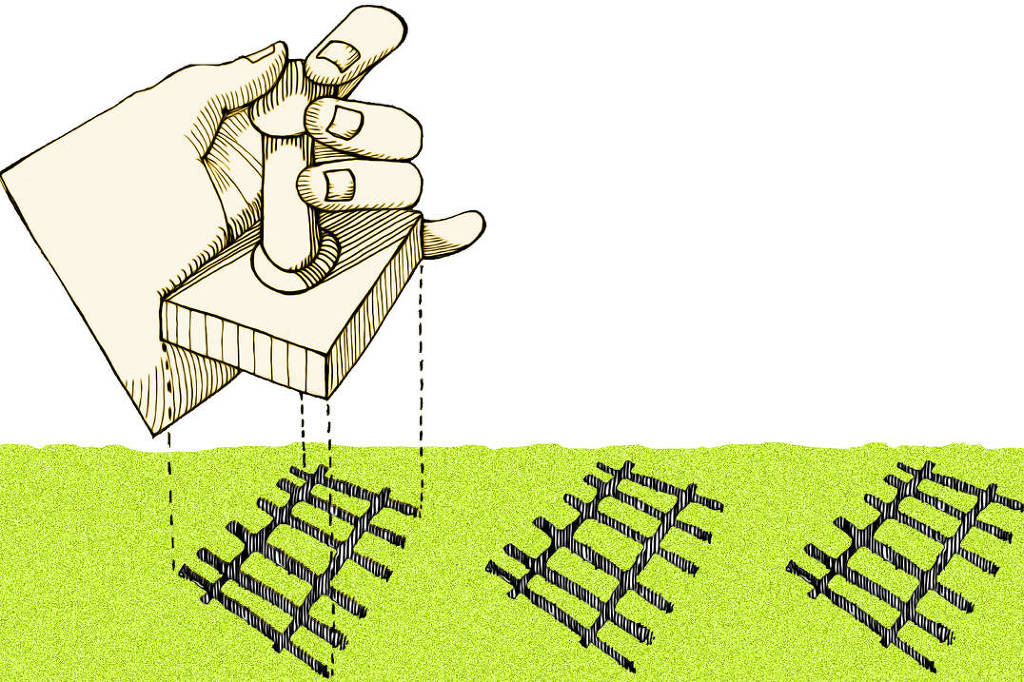





 English (US) ·
English (US) ·  Portuguese (BR) ·
Portuguese (BR) ·