Foi pela televisão que Thamyres Sabrina Gonçalves se encantou pelo estudo da Terra. "Fui fazer geografia por causa da [repórter] Glória Maria. Achava que, para viajar para todo lado como ela, tinha que ter formação nessa área".
Hoje Gonçalves cruza geografia e ecologia para estudar ilhas florestais isoladas em meio a campos rupestres no Vale do Jequitinhonha mineiro. Nesse ambiente de Cerrado, existem vários tipos de paisagem e os campos nativos de altitude predominam. "Mas há algumas ilhas de florestas isoladas em meio a esses campos. Você olha a paisagem e se pergunta: como essa floresta veio parar aqui?", ela conta.
Uma das hipóteses para isso é que, milhões de anos atrás, fragmentos de Mata Atlântica haviam se expandido por esses campos e depois retraíram, deixando para trás alguns "enclaves", ou capões de mata. Essa é a teoria dos Refúgios Florestais proposta pelo alemão Jürgen Haffer, que foi aplicada na fitogeografia brasileira pelo [geógrafo brasileiro] Aziz Ab'Saber. "Um dos meus objetivos de pesquisa é apresentar contrapontos a essa teoria, porque a expansão da Mata Atlântica não chegou até aqui", diz Gonçalves.
Durante o doutorado na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, a geógrafa se debruçou sobre transições na vegetação do Espinhaço desde os primórdios do Quaternário — período geológico mais recente da era Cenozóica — que começou cerca de 2,6 milhões de anos atrás. "É muito difícil pegar essa transição entre campo e floresta porque é raro encontrar dados que marcam eventos transicionais com exatidão. A subjetividade faz parte da pesquisa paleoecológica e arqueobotânica, daí a necessidade de ser inter, trans e multidisciplinar — o que torna o trabalho ainda mais instigante e desafiador", diz ela.
Estudando as camadas de solo da região, Gonçalves chegou a duas hipóteses. Uma, é que os capões de mata evoluíram na presença de turfeiras — áreas de transição entre paisagens terrestres e aquáticas onde material orgânico foi se acumulando ao longo do tempo. A outra é que essas matas se desenvolveram sob rotas migratórias de aves de pequeno porte que dispersaram sementes ao longo das linhas de drenagens hidrográficas nas vertentes da Serra do Espinhaço.
Mas uma observação inesperada fez surgir perguntas que não foi possível responder no doutorado. "Nas lâminas microscópicas, eu sempre via uns fragmentos parecidos com carvão. É estranho, porque ali não era lugar seco a ponto de ter fogo naturalmente, o interior da floresta é muito úmido, principalmente as ilhas dentro das turfeiras", observa.
Intrigada, aventou que poderia ser contaminação, já que no laboratório faltavam muitos reagentes químicos para pesquisa em meio a pandemia. Mas os pontos pretos começaram a aparecer com muita frequência para ser apenas sujeira. "Se isso for mesmo carvão, pode ser que aponte para uma presença humana na região muito mais antiga do que a gente imaginava, porque no interior da floresta o fogo não poderia ser de causas naturais. Mas é tudo hipotético".
Foi esse mistério que levou Gonçalves a conhecer Rita Scheel-Ybert, arqueóloga especialista em arqueobotânica do Museu Nacional/ Universidade Federal do Rio de Janeiro. Scheel-Ybert trabalha com a análise de carvões em sítios arqueológicos e em solos, e vai orientar a pesquisadora em seu pós-doutorado no Museu Nacional. A ideia é saber se os vestígios nas lâminas são carvão ou não. A resposta poderia, potencialmente, mudar o que se sabe sobre a ocupação humana na serra do Espinhaço.
Gonçalves sabe que não vai ser fácil. Com o incêndio em 2018, o Museu Nacional perdeu as coleções de referência que poderiam ser úteis para sua pesquisa. "Vou ajudar a reconstruí-las", ela diz. "O problema é que a reconstrução do museu está focada só em acervo, enquanto laboratórios e equipes de pesquisa acabam ficando mais de lado", ressalta.
A crítica vem de alguém que entende muito intimamente o que é não ter recursos —nem mesmo o mínimo para a sobrevivência. Filha de pais adolescentes com dependência química, Gonçalves conta que a vida do povo preto é permeada de muita violência —realidade que vivenciou na casa de sua avó paterna, onde passou parte da infância .
Vivendo nas ruas, a mãe entregou as quatro filhas para outras pessoas criarem. "Tive a 'sorte' de ter sido doada a uma família de professoras. Fui para a casa de uma senhora idosa onde podia ler e estudar. Eu tinha oito anos quando ela morreu, e então morei com vários parentes, amigos, conhecidos e até um abrigo para menores abandonados".
Gonçalves passou por muitos lugares, e tinha a escola como ancoradouro. Era onde conseguia um mínimo de normalidade e consistência de rotina. Foi com as colegas do time de handball que ouviu falar de vestibular pela primeira vez.
O desafio nunca foi intelectual. "Sempre foi material. A dificuldade é o resquício de escravidão que esbarra em mim", diz a cientista, que é uma mulher negra. Hoje Gonçalves se empenha em romper o ciclo de violência no qual foi criada, tanto na educação de sua filha quanto em seu trabalho de pesquisa. Ela briga por uma ciência menos colonizada. "Os grandes fitogeógrafos são todos homens, brancos, de escolas europeias, que vêm de longe para estudar outros lugares. Minha escola de pensamento científico é a brasileira, eu sou filha da floresta tropical", afirma.
*
Meghie Rodrigues é jornalista de ciência.
O blog Ciência Fundamental é editado pelo Serrapilheira, um instituto privado, sem fins lucrativos, de apoio à ciência no Brasil. Inscreva-se na newsletter do Serrapilheira para acompanhar as novidades do instituto e do blog.

.png) há 7 meses
35
há 7 meses
35


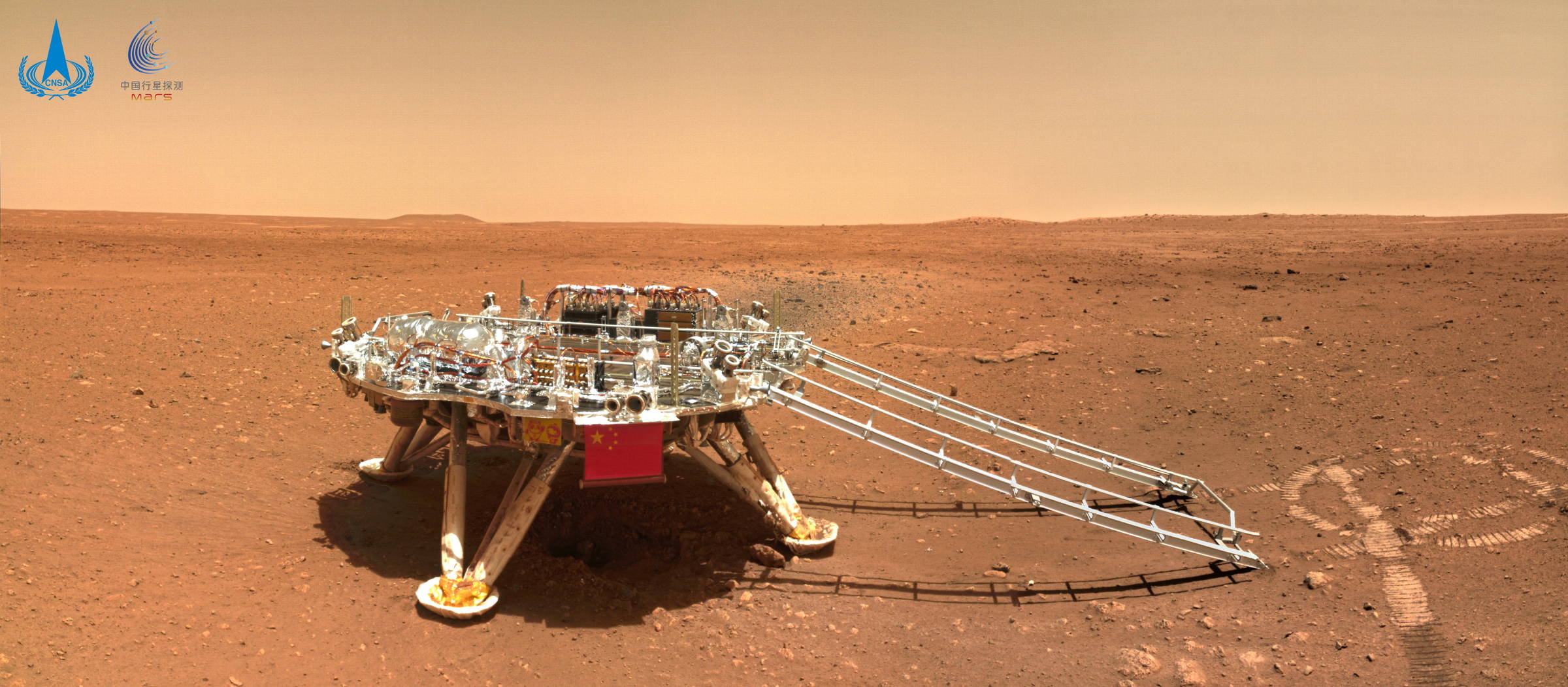





 English (US) ·
English (US) ·  Portuguese (BR) ·
Portuguese (BR) ·