Certa vez uma amiga falou com pesar dos bolinhos de bacalhau inigualáveis de sua avó portuguesa. Uma iguaria que eventualmente vai ficar na lembrança, pois ninguém da família aprendeu a receita. Claro que a receita poderia ser escrita, mas seu registro não garante o resultado: cozinhar envolve macetes, subjetividade e manipulações delicadas. É preciso fazer a receita repetidas vezes, copiar, ser corrigido.
Ciência experimental não é muito diferente. Quando alguém começa a trabalhar num laboratório de biologia, os primeiros meses são dedicados a operações manuais: pipetar quantidades ínfimas de líquidos caríssimos, usar o microscópio, preparar soluções, manipular cultura de células, fazer cirurgias em animais. Um longo repertório de procedimentos delicados que exigem treino.
E quando se vai além do feijão com arroz da pesquisa, é bem comum que o avanço da ciência esteja em desenvolver e padronizar novos métodos, que abrem caminhos para obter informações antes inacessíveis (dos dez artigos científicos mais citados de todos os tempos, sete são sobre métodos).
Harry Collins e colegas reportaram um caso famoso, que diz respeito ao Q da safira – uma medida do tempo que um cristal leva para parar de vibrar. Em 1979, pesquisadores num laboratório russo chegaram a um valor muito maior do que aquele então medido. Ainda que vários grupos tenham tentado validar tal resultado, só 20 anos depois, na Escócia, foi obtido valor semelhante.
A parte interessante da história, no entanto, é o que foi necessário para encontrar esse mesmo valor. Em junho de 1998, cientistas de um laboratório em Glasgow que haviam tentado refazer o experimento passaram uma semana em Moscou com o pessoal que havia chegado àquele valor. No mês seguinte, a turma de Moscou passou uma semana em Glasgow. Ao longo de quase um ano, o grupo de Glasgow continuou repetindo o experimento, sem sucesso.
Foi só em junho de 1999, quando os cientistas russos voltaram a Glasgow, que os escoceses obtiveram uma medição do Q tão alta quanto o grupo russo havia reportado, usando amostras trazidas da Rússia. Em seguida conseguiram repetir a medição com amostras locais, e um tempo depois um grupo de Stanford, nos EUA, também conseguiu –com a presença de um membro do grupo de Glasgow.
Por que tantas visitas, se todas as etapas já haviam sido descritas entre os grupos? Collins aponta dois aspectos. Primeiro, um aspecto social, afetivo: o grupo de Glasgow, ao visitar Moscou, observa o cuidado e a dedicação dos anfitriões na execução dos experimentos, e constrói uma confiança robusta no resultado –tanto que depois eles insistiram por um ano, atribuindo as falhas a questões do próprio experimento. A confiança na integridade científica dos colegas motivou a persistência necessária para a tarefa.
O segundo aspecto é que o aparato para medir o Q da safira era complicado –envolvia suspender um pequeno pedaço de cristal no vácuo, preso num fio "engordurado". Mas o grupo russo tinha anos de experiência com aquele tipo de aparato. Usavam um material diferente para o fio e tinham um macete para gerar mais rápido o vácuo, o que permitia fazer ajustes pequenos e repetir a medição várias vezes em menos tempo. Além disso, a gordura, aplicada com os dedos, era sentida, não medida.
Fazer experimentos exige um conhecimento tácito, como na culinária. Ainda que cientistas descrevam seus protocolos em detalhes (o que nem sempre é o caso), existem limitações inerentes do texto escrito. Detalhes importantes de que ninguém se dá conta, aspectos que até poderiam ser descritos em palavras, mas que são captados se pudermos tocá-los e senti-los (o tanto de gordura no fio ou a consistência de uma massa antes de ir ao forno). Além de procedimentos motores indescritíveis (explique, em palavras, como andar de bicicleta ou mexer a língua para falar). São macetes, suposições e jeitinhos fáceis de aprender por imitação, mas difíceis de aprender por texto.
Reproduzir um experimento científico, sobretudo usando métodos novos, exige paciência e disposição para observar e aprender por imitação. A revista científica Jove, por exemplo, usa vídeos para descrever protocolos, o equivalente científico de um vídeo de receita no Instagram.
É comum em laboratórios ouvir alguém falar que "tal experimento não funciona na minha mão, só quando você faz". É a versão científica de: "comigo o bolo sempre sola, mas eu juro que sigo a sua receita direitinho"...
*
Kleber Neves é neurocientista e gestor de Ciência no Instituto Serrapilheira; participou da Iniciativa Brasileira de Reprodutibilidade, primeiro estudo com abrangência nacional que se propôs a reproduzir experimentos de forma sistemática, de modo a verificar seus resultados.

.png) há 1 semana
4
há 1 semana
4






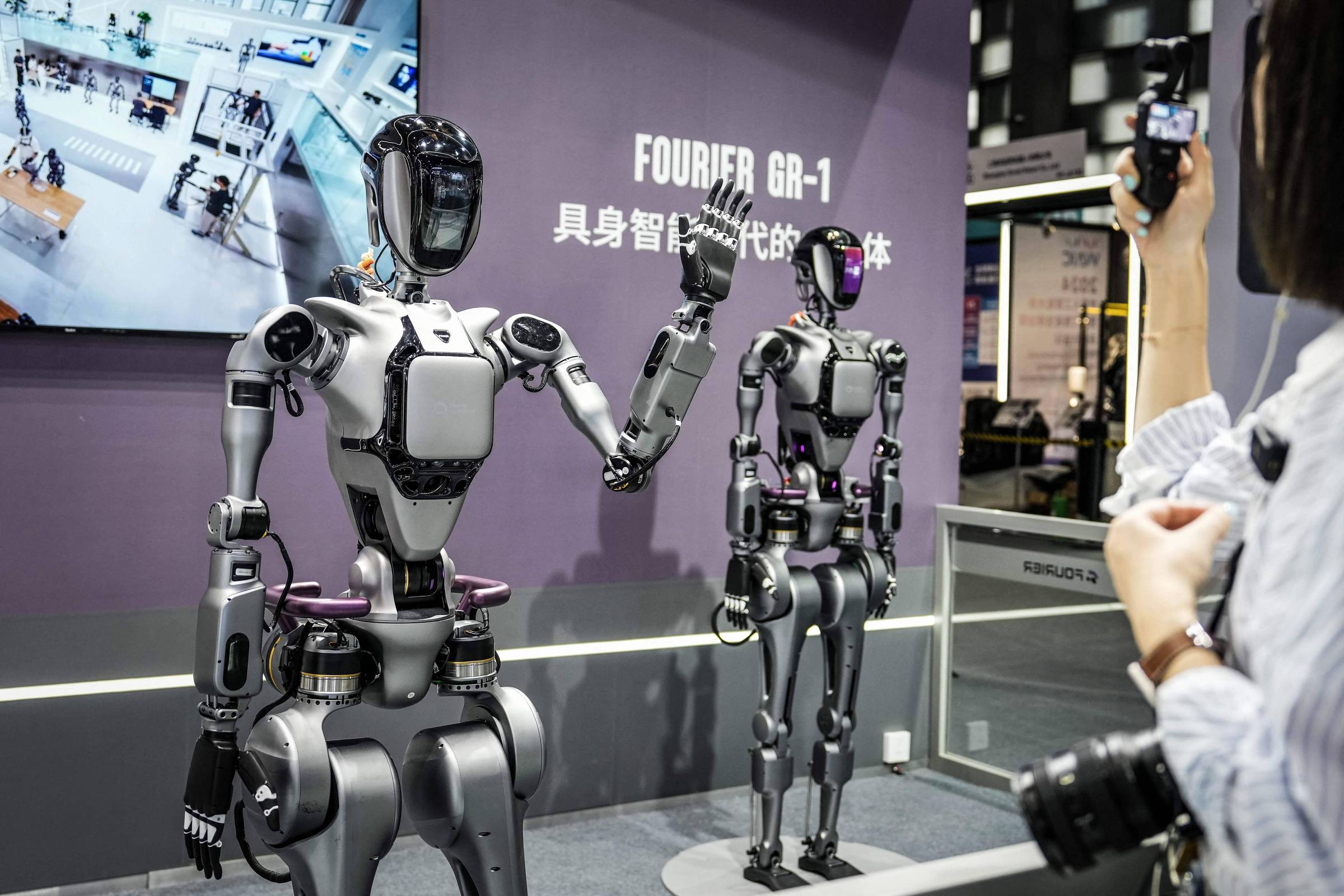

 English (US) ·
English (US) ·  Portuguese (BR) ·
Portuguese (BR) ·