No espaço de uma década, a recuperação de estágios de foguete foi de sonho impossível a realidade cotidiana, cortesia da empresa americana SpaceX.
Após alguns anos de estudos e testes, a companhia de Elon Musk conseguiu pela primeira vez realizar o pouso suave de um primeiro estágio do foguete Falcon 9 em dezembro de 2015. Em pouco tempo, a inovação deu a ela uma dianteira gigantesca à frente de toda a concorrência –que demorou a perceber que teria dificuldades de competir pelo mercado de lançamentos sem esforços similares e só agora começa a se mover para recuperar o tempo perdido.
À primeira vista é difícil entender por que demorou tanto para acontecer, considerando que foguetes fazem lançamentos à órbita desde 1957 e a tecnologia básica por trás deles mudou relativamente pouco desde então.
Dois grandes tabus atravancaram esse progresso por décadas: um tecnológico, que exigia a realização da queda controlada do estágio do foguete após realizar seu trabalho na ascensão, para que pudesse ser recuperado; e outro econômico, em que recuperar foguetes para relançá-los, com todo o custo de resgate e recondicionamento, fizesse mais sentido que meramente construir outros e manter o uso descartável.
A SpaceX mudou as regras do jogo em ambos os aspectos. No tecnológico, concentrou-se em equipar seus lançadores com sensores e dispositivos capazes de guiar o que é essencialmente um edifício —o primeiro estágio do Falcon 9 tem 40 m de altura e 3,7 m de largura; já o primeiro estágio do Starship, maior foguete já construído, tem 70 m de altura por 9 m de largura— até um ponto precisamente especificado na superfície do planeta.
Nada disso seria possível sem o poder de computação que emergiu apenas em tempos recentes, em que a máquina lê os dados dos sensores (identificando precisamente aceleração, deslocamento, atitude) e ativa de forma apropriada propulsores auxiliares ou rotaciona grades com efeito aerodinâmico, com ajustes ultraprecisos, de forma a permitir que o "prédio" desça na vertical no local certo e, ao se aproximar do solo, acenda os motores na hora exata com a potência exata para que a velocidade de queda chegue a zero no instante de chegada ao solo.
Parecem cenas saídas de Flash Gordon, ficção científica pura, até vermos o Falcon 9 fazer isso de novo, e de novo, e de novo.
Essa, contudo, é apenas parte da história. A outra parte é a histórica acomodação da indústria espacial, após décadas de "senso comum" a sugerir que foguetes estão destinados a ser descartáveis, por sua própria natureza e pelo nível de demanda que temos deles.
São veículos extremamente caros de construir e que operam de forma completamente contraintuitiva. Gigantes destinados a ser quase totalmente preenchidos por combustível, com apenas uma pequena parte da massa destinada à carga que se pretende levar ao espaço.
Nesse contexto, é difícil imaginar a disposição de não gastar todo o combustível na ascensão, deixando parte dele para as manobras de retorno. Ademais, o sistema de estágios permite justamente ir descartando peso morto durante a viagem, para maximizar a capacidade de transporte até a órbita, usando até a última gota de propelente para lançar a espaçonave à velocidade desejada.
Fazer um foguete reutilizável implica sacrificar a capacidade de carga. Nem sempre é viável, mesmo para a SpaceX. Ao usar seu Falcon Heavy para lançar a sonda Europa Clipper, da Nasa, a Júpiter, a demanda sobre o veículo foi tão grande que a empresa teve de lançá-lo em modo "descartável", usando cada pingo de combustível para dar a velocidade requerida à espaçonave.
Com essa lógica de que foguetes são muito caros e fazem seu trabalho melhor quando são descartáveis, a indústria se acomodou à ideia de que o espaço é uma arena apenas para grandes clientes, sejam governos ou empresas de grande porte. Num ecossistema assim, há uma demanda relativamente modesta por lançamentos anuais e um veículo reutilizável, ainda que prático, faria pouco sentido.
A SpaceX subverteu essa lógica criando sua própria demanda –a constelação de satélites Starlink, até outro dia um empreendimento impensável, abriu um novo ramo para a exploração do espaço, com fornecimento de internet de banda larga e baixa latência. Para colocá-la em órbita, a SpaceX precisaria de centenas de lançamentos –e nesse contexto a reutilização compensa. Não por acaso a companhia hoje faz mais de cem lançamentos por ano, a maioria deles para servir a Starlink, e coloca mais carga útil no espaço que todo o resto do mundo reunido.
Os custos de lançamento, com essa frequência de voos, despencaram. E tendem a cair ainda mais com o Starship, que promete ser 100% reutilizável. Com o Falcon 9, só o primeiro estágio é recuperado. No Starship, os dois estágios poderão voar diversas vezes, com pouco trabalho de manutenção.
A concorrência hoje vive uma encruzilhada. Algumas empresas, como a americana Blue Origin (de Jeff Bezos) e a neozelandesa Rocket Lab (de Peter Beck), já começam a explorar primeiros estágios reutilizáveis (tecnicamente a Blue Origin foi a primeira a usar um, até antes da SpaceX, com o New Shepard, mas esse é destinado apenas a voo suborbital, desafio menor que o encarado por veículos de alcance orbital).
Outras, como a europeia Arianespace e americana ULA, com seus novos lançadores (Ariane 6 e Vulcan fizeram seu primeiro voo em 2024), seguem apostando em modelos largamente descartáveis, suficientes para atender demandas governamentais direcionadas a elas. Difícil imaginar que não vão ter de mudar essa filosofia nos próximos anos. E mesmo quem já mudou, como muitas startups chinesas, ainda terá um longo caminho a percorrer até atingir a proficiência da SpaceX, que neste momento se mantém hegemônica no setor de lançamentos espaciais.

.png) há 4 meses
10
há 4 meses
10
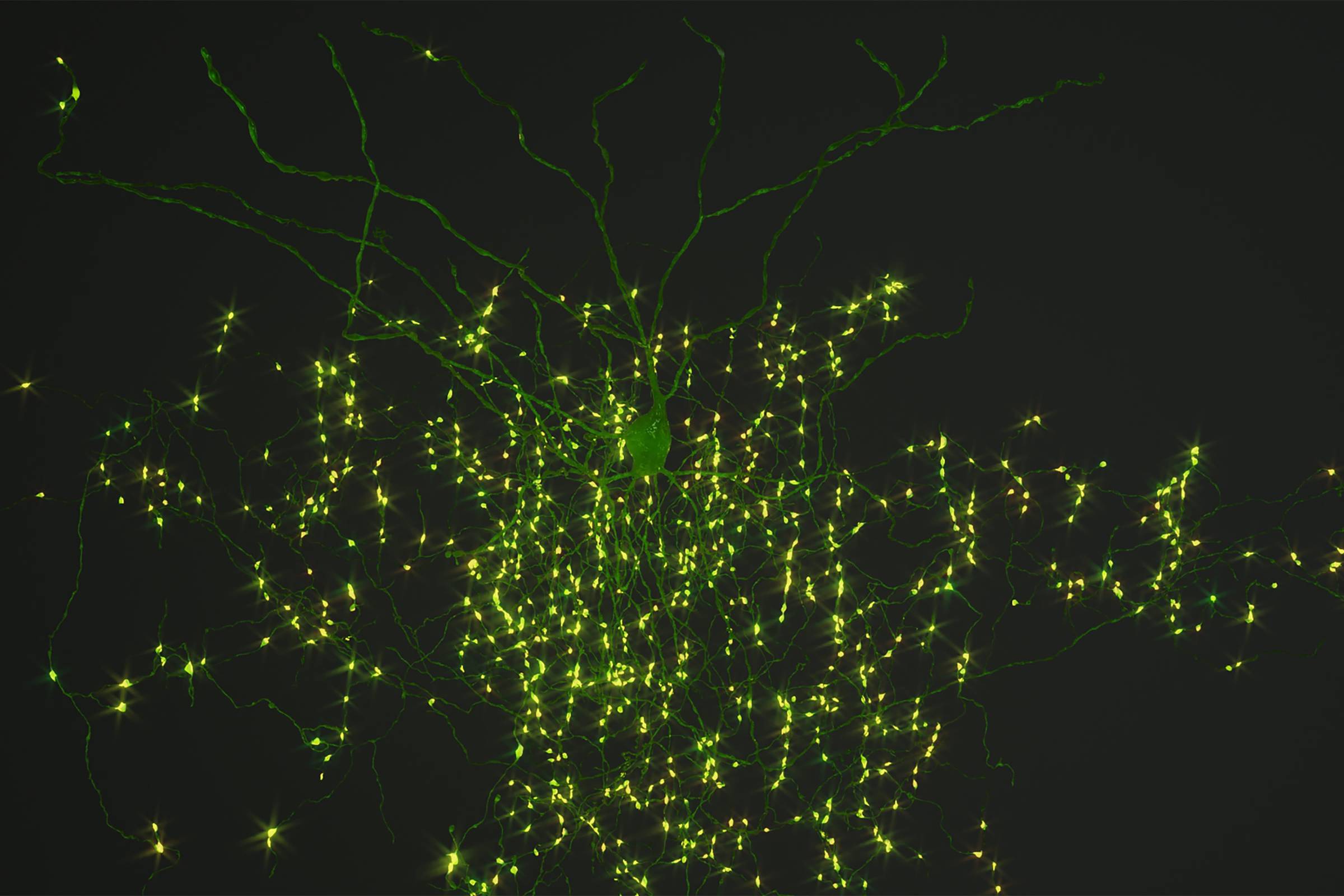







 English (US) ·
English (US) ·  Portuguese (BR) ·
Portuguese (BR) ·