Encontrei Dalton Trevisan pela primeira vez em 1968, num dos cafés da Boca Maldita, no centro de Curitiba, na época um ponto fervilhante de encontro rodeado por uma dezena de cinemas, todos a poucos minutos de caminhada.
Jovem candidato à artista, eu frequentava a roda dos intelectuais e jornalistas da cidade —roda inteira masculina, no padrão da época—, junto de Jamil Snege, Walmor Marcelino, Nego Pessoa, Fábio Campana, Luís Mazza, o livreiro Vinholes, e, muitas vezes, Dalton Trevisan. Saía de algum cinema à noite e, entre um cafezinho e outro, bebia avidamente a conversa da roda dos adultos, naquele ano fulgurante que não iria terminar: política, Vietnã, filmes, militares, socialismo, música, publicidade, teatro — e, é claro, literatura.
Nesses encontros animados —o nome "boca maldita" não mente— falava-se mal de tudo e de todos: uma boa escola para um escritor, eu imaginava. "Em cada esquina de Curitiba, um Raskolnikov te espreita, a machadinha sob o paletó", eu leria anos depois num de seus livros.
Dalton Trevisan, que naquele tempo ainda falava com as pessoas, já despontava no horizonte como um nome de peso do cenário brasileiro, desde o lançamento de "Novelas Nada Exemplares", em 1959.
E a mitologia correspondente do personagem Trevisan, o vampiro de Curitiba —o livro homônimo é de 1965—, já começava a se consolidar de tal modo e com tal intensidade que desde o início de sua fama era difícil separar autor e obra.
Meu olhar juvenil naquelas rodas era de devoção silenciosa: o impacto dos seus contos, a linguagem elíptica e os temas cada vez mais recorrentes, que pareciam tirar sua força da própria repetição, os Joões e Marias de sempre, eram qualidades literárias desconcertantes que, ainda sem o filtro da distância, até mesmo a invencível autofagia curitibana tinha dificuldades de negar. Lembro de uma frase de Snege, publicitário e escritor que era uma das minhas referências de aprendiz: "Dalton Trevisan é incontornável."
De onde vinha aquele escritor? Como lidar com ele? Um conto de Trevisan parecia imediatamente tornar velho tudo que se escrevia por perto, e de certa forma, o que acontece com todos os grandes, a influência brutal estreitava o funil das possibilidades de quem se aventurasse no terreno.
Na cidade, havia um toque de Trevisan em cada linha que se escrevesse. Sem defesa, pautada pelo próprio Trevisan, a boca maldita atacava o homem, o recurso clássico do ressentimento: E que besteira é essa de não querer dar entrevista?! E essa frescura de reescrever cada frase 30 vezes?!
Era como se todos os defeitos da província —a pequenez, o olhar de escárnio, a volúpia crítica, o dedo no nariz, a pose do poeta, o ridículo e a gargalhada, o dentinho de ouro, o horror à estátua, o bigodinho cafona— fossem absorvidos por osmose em cada linha de Trevisan. Como numa técnica homeopática, Trevisan usa o mesmo veneno que quer destruir.
O risco seria o de sempre: não conseguir transpor o próprio limite do prazer da sátira, o gozo do riso, uma tradição curitibana desde Emilio de Menezes. A sátira daltoniana é fundamentalmente de natureza moral, a marca do gênero, mas não moralista, porque em tudo ele duplica o sentido pelo poder da paródia, que espelha o avesso. Acusador e acusado estão no mesmo barco; o mirante não é fixo; narrador e personagem são irmãos.
O que vê Dalton Trevisan? A paisagem através na janela ou a sujeira do vidro? Lembro de uma das rodas na Boca, já no início dos anos 1970, após assistir "Ânsia de Amar" —filme de direção de Mike Nichols e roteiro de Jules Feiffer, autor de HQ de quem eu também era devoto.
Entre os comentários gerais de entusiasmo pelo filme, lembro da observação de Dalton: "A câmera foi cruel com Ann-Margrett ao sair do banho". Diante do espanto geral —como assim, aquele mulherão!— ele detalhou: "Perceberam a celulite?" (Ano passado revi o filme: de fato, Trevisan tinha razão). Era só uma anedota, mas não para ele. É um olhar sem nenhuma transcendência? A boa literatura prescinde dela?
Certamente não; a esse olhar de marcas estilísticas mortais (Trevisan criou uma linguagem única que é imediatamente reconhecível na mínima frase, um jeito de ver que é uma armadilha em cada vírgula —"Nunca fui tão só, querida, como na tua companhia", diz ele num conto imenso de nove palavras), acrescente-se o peso bíblico, essencialmente punitivo, o que também é uma marca da Curitiba profunda: se para Kafka há esperança, mas não para nós, para Trevisan não haverá jamais esperança alguma para ninguém.
Uma maldição de Velho Testamento que, entretanto, se envelopa na paródia, na voz dupla que simula, e às vezes na graça inesperada de uma imagem antiga na parede, num saudosismo sem âncora. Trevisan viveu um século inteiro, do fogão à lenha à inteligência artificial, e não se impressionou com nada: isso é bíblico.
Desbastando a mitologia que, meticuloso, ele criou para si mesmo —se em algum momento foi um cálculo pessoal, ela acabou por devorá-lo inteiro e sem escape, passando a ser a sua forma de fidelidade—, sua literatura prossegue enigmática; não esgota o que tem a dizer.
Numa geografia social, sinto que seus contos, desde a virada dos anos 1960, marcaram nítidos o ponto radical de passagem de um país ainda rural, embebido no mito e na magia, para um país inteiro urbano e selvagem, uma abstração perdida de sonhos brutalizados, que é o Brasil de hoje. Nesse horizonte, nenhuma linha dele envelheceu.
Depois daqueles anos de juventude, revi Trevisan apenas três ou quatro vezes, anos depois, em encontros acidentais —uma vez na fila do caixa do supermercado, sem trocar palavra. Por acaso, morei os últimos 30 anos a cinco quadras de sua casa, mas alguma coisa me impedia de procurá-lo.
Talvez por temor mesquinho, à maneira de um personagem dele: não tenho notícia de ninguém em Curitiba que sobreviveu muito tempo a uma amizade com o vampiro. Como ele dizia, o conto é sempre melhor que o autor.

.png) há 2 semanas
2
há 2 semanas
2

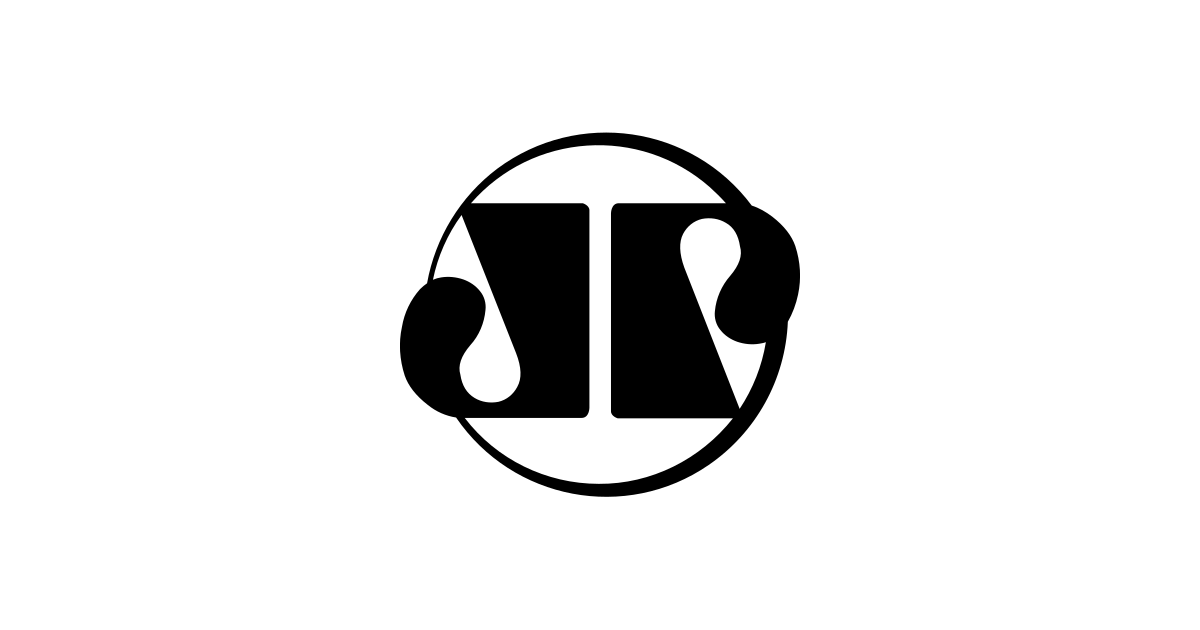






 English (US) ·
English (US) ·  Portuguese (BR) ·
Portuguese (BR) ·