[RESUMO] Mario Vargas Llosa, que morreu no domingo (13) aos 89 anos, além de excepcional ficcionista, foi um modelo de polemista e intelectual quase em extinção. Em sua trajetória, enfrentou em seus romances e na vida pessoal os principais impasses de nossa época, ganhou o Nobel, acumulou incontáveis admiradores e detratores e levou a literatura da América Latina para o mundo.
Em suas memórias, Mario Vargas Llosa dá duas explicações para o fato de ter entrado na política partidária no final dos anos 1980, já com mais de 50 anos e mundialmente reconhecido como o grande escritor que era.
A que mais lhe convinha ressaltava "uma razão moral". "As circunstâncias me colocaram numa situação de liderança num momento crítico da vida de meu país. Achei que estava diante da oportunidade de fazer, com o apoio da maioria, as reformas liberais que, desde o início dos anos 1970, defendi em artigos e polêmicas como sendo necessárias para salvar o Peru", escreveu em "Peixe na Água" (1993).
Patricia, esposa do escritor por décadas, tinha uma resposta bem menos altruísta para a candidatura do marido à Presidência do Peru. "A obrigação moral não foi o aspecto decisivo", disse ela. "Foi a aventura, o fascínio de viver uma experiência cheia de excitação e risco. De escrever, na vida real, o grande romance." Como sempre, a mulher parece ter razão.
De forma mais literária, Vargas Llosa expressou a percepção sagaz de Patricia na ideia de "romance total", a utopia de uma obra de arte que abarcasse um panorama completo da realidade, em seus múltiplos e conflitantes aspectos. Não contente em enfrentar essa tarefa descomunal em seus livros, o escritor resolveu experimentá-la na própria vida.
"Se a Presidência do Peru não fosse, como afirmei brincando a um jornalista, o ofício mais perigoso do mundo, eu jamais teria sido candidato. Se a decadência, o empobrecimento, o terrorismo e as múltiplas crises não tivessem feito de governar um país como este um desafio quase impossível, não me teria passado pela cabeça semelhante empresa."
A tentação do impossível, não por acaso título de um de seus livros de ensaios, picou cedo Vargas Llosa. Ainda jovem se debatia com uma questão central para criadores de países periféricos: no caso dele, como fazer uma literatura moderna no Peru dos anos 1950 e 1960? A produção peruana daquela época —em grande parte indigenista, costumbrista, enraizada na paisagem natural e no folclore, descuidada da forma e da linguagem— parecia a ele tediosa, velhíssima, "adulteração pitoresca, banal e complacente de uma realidade complexa".
A saída para esse impasse se deu com a descoberta de dois autores, o francês Gustavo Flaubert (1821-1880) e o americano William Faulkner (1897-1962), os mais importantes em sua formação literária. O primeiro escreveu o romance favorito de Vargas Llosa, "Madame Bovary" (1856), que o deslumbrou com seu realismo rigoroso, a busca da palavra exata, o narrador onisciente que tudo observa com exatidão e sem julgamentos, com as experimentações pioneiras do discurso indireto livre (em que o narrador em terceira pessoa incorpora os pensamentos e sentimentos dos personagens).
De Faulkner aprendeu a alternância dos pontos de vista, a organização não linear e não cronológica de tempo e espaço para obter efeitos dramáticos mais profundos. "É fundamental essa alternância, pois, se você quer apresentar uma sociedade, deve mostrar distintos ângulos sociais e, para isso, precisa escolher distintos narradores. Sempre escolhendo um narrador que seja o Deus Padre e também narradores personagens, mas respeitando o que os personagens podem saber enquanto personagens", disse à Folha em sua última entrevista ao jornal.
Munido dessa bagagem literária, Vargas Llosa lançou uma série impressionante de livros nos anos 1960: "A Cidade e os Cachorros" (1963), seu primeiro romance, "A Casa Verde" (1966), a novela "Os Filhotes" (1967) e "Conversa no Catedral" (1969). Em todos descreve o impacto devastador do autoritarismo na sociedade peruana. E a cada um deles tornou a narrativa mais sofisticada.
"Ainda usavam calças curtas naquele ano, ainda não fumávamos, entre todos os esportes preferiam o futebol e estávamos aprendendo a pegar onda, a mergulhar do segundo trampolim do Terrazas, e eram levados, imberbes, curiosos, muito ágeis, vorazes" —começa assim a vertiginosa narração dos "Filhotes", mescla de terceira pessoa com a memória coral de um grupo de garotos peruanos.
Na sequência publicou "Conversa no Catedral" (1969), o mais perfeito exemplo de seu ideal de romance total. Do encontro entre Zavalita, filho de família rica, e Ambrosio, motorista descendente de negros e indígenas, em um pequeno bar de Lima, em meio a bebidas e lembranças fragmentárias, a idas e vindas no tempo, Vargas Llosa extrai um amplo retrato dos oitos anos de ditadura do general Manuel Odría no Peru (1948 a 1956).
No caldeirão de violência autoritária, censura, corrupção, exclusão racial, desumanidade e covardia, a desolação é geral. "Em que momento o Peru tinha se fodido?", pergunta-se Zavalita no célebre início do livro. Condenado a trabalhos cada vez mais degradantes, a Ambrosio só resta aceitar que "depois, bem, depois ia morrer, não é mesmo, menino?".
Vargas Llosa já era então um nome central do boom da literatura latino-americana, tinha leitores devotos e apenas 33 anos. O que mais fazer depois disso?
Após dois romances de humor deliciosos, "Pantaleão e as Visitadoras" (1973) e "Tia Júlia e o Escrevinhador" (1977), os limites geográficos e históricos peruanos começaram a ficar estreitos demais para ele. Encantado com "Os Sertões" (1902) de Euclides da Cunha, aventurou-se pela Bahia, ciceroneado pelo amigo Jorge Amado, e voltou ao final do século 19, na época da Guerra de Canudos.
"A Guerra do Fim do Mundo" (1981) reconta o trágico episódio em tom monumental, de todas as perspetivas possíveis: Antonio Conselheiro e seus seguidores, soldados e alto comandantes do Exército, senhores de engenho, políticos, jornalistas, anarquistas estrangeiros.
Quando perguntado sobre qual de seus livros preferia, Vargas Llosa costuma revezar a resposta, ora "Conversa no Catedral", ora "A Guerra do Fim do Mundo". A jornada brasileira de fato foi uma virada em sua obra e na vida pessoal, rumo ao desbravamento de outros países e realidades, entrelaçando ficção e personagens reais, renovando o gênero dos romances históricos.
Duas outras circunstâncias, ligadas entre si, contribuíram para essa mudança nos anos seguintes: a consolidação de sua conversão ao liberalismo e a derrota de sua candidatura de centro-direita para Alberto Fujimori, na disputa pela Presidência do Peru em 1990. O escritor mudou-se para Madri em seguida e obteve cidadania espanhola em 1993.
Nas décadas seguintes, ambientou seus romances na República Domicana ("A Festa do Bode", 2000, outro de seus clássicos, sobre o ditador Rafael Trujillo), na França e no Taiti ("O Paraíso na Outra Esquina", 2003, protagonizado por Flora Tristán e Paul Gauguin, avó e neto), na Europa dos anos 1960 a 1980 ("Travessuras da Menina Má, de 2006), no Congo e na Amazônia do começo do século 20 ("O Sonho de Celta", 2010), na Guatemala dos anos 1950 ("Tempos Ásperos", de 2019).
Repórter na juventude, e presença sempre ativa na imprensa, gastou muita sola de sapato e embrenhou-se em vastas pesquisas nesses países. Não parecia haver limites —geográficos, temporais ou linguísticos—para sua curiosidade intelectual e seu poder de fabulação. Em 2021, entrou para a Academia Francesa de Letras, sendo o primeiro a conquistar essa façanha sem ter escrito seus livros originalmente em francês.
Embora não perdesse de vista a perspectiva peruana, Vargas Llosa era um cidadão do mundo —e não se inibia em fazer dele o palco de sua imaginação.
No binarismo estreito em que vivemos, contudo, Vargas Llosa ganhou e perdeu leitores exclusivamente por causa de suas posições políticas, o que é lamentável em ambos os casos para um escritor de sua estatura. Críticos renomados também apontaram que alguns de seus últimos romances tinham mais pregação liberal do que literatura. Vargas Llosa reconhecia esse perigo e tratou dele em vários ensaios.
O ideal totalizante que motivava sua criação não buscava uma unidade geral, dizia. Era, na verdade, uma soma de contradições, uma confusão vertiginosa, a seu ver o único caminho de retratar as complexas relações humanas. Na política, contudo, qualquer que seja a ideologia em jogo, essa visão total e sistemática tende sempre a simplificar as coisas, a encaixar acontecimentos diversos nos mesmos princípios, a propor uma explicação única para o mundo. Empobrecia a vida, ele concluía.
"Tempos Ásperos", seu penúltimo romance, anda por essa corda bamba, mas supera com folgas esse impasse. Talvez também surpreenda quem o toma por "reacionário". Espécie de continuação de "A Festa do Bode", o livro encerrou o ciclo sobre ditaduras a que se dedicou desde o início.
O golpe que derrubou o governo popular e progressista da Guatemala em 1954, um conluio de uma multinacional americana que não queria pagar impostos e a CIA, empurrou, na visão do escritor, a América Latina para muitos de seus tormentos políticos nas décadas seguintes —de um lado, os sucessivos regimes militares na região; de outro, a radicalização da esquerda e o desprezo de grande parte dela pela democracia liberal.
Che Guevara estava na Guatemala durante o golpe, ressalta Vargas Llosa, especulando que a história de Cuba poderia ter sido diferente se os EUA não tivessem cometido a grande estupidez de derrubar um presidente eleito.
Como em seus melhores trabalhos, a reflexão política está presente, mas a grandeza do livro vem de sua narrativa poderosa, da fusão inebriante de fatos e ficção, da manipulação do tempo dos acontecimentos. Esses recursos chegam ao ápice no capítulo que destrincha os preparativos do golpe militar e nas horripilantes páginas finais.
Entre um romance e outro, Vargas Llosa nunca deixou de publicar livros de ensaios, de temas tão variados e surpreendentes quanto sua ficção: o colombiano Gabriel José García Márquez, amigo e depois desafeto ("História de um Deicídio" (1971); a "Madame Bovary" de Flaubert ("A Orgia Perpétua", de 1975); a própria escrita ("Ensaios sobre o Romance Moderno", 1990, e "Cartas a um Jovem Romancista", 1997); o francês Victor Hugo ("A Tentação do Impossível", 2004); a crise cultural de nossa época ("A Civilização do Espetáculo", 2012); o argentino Jorge Luis Borges ("Medio Siglo Con Borges", 2020); os pensadores liberais que moldaram seu pensamento ("O Chamado da Tribo", 2018).
Em 2023, publicou seu último romance, "Dedico a Você Meu Silêncio", um retorno ao Peru, e deu adeus à ficção. Anunciou então que gostaria de escrever apenas mais um texto, um ensaio sobre o filósofo francês Jean-Paul Sartre, que não chegou a publicar.
Seria um fecho curioso para sua obra, talvez uma espécie de reconciliação. Sartre foi um de seus heróis de juventude (ganhou dos amigos o apelido de "sartrezinho mata-sete"), mas dele se afastou quando rumou para a direita.
Até o fim Vargas Llosa desafiou categorizações rígidas e fez da liberdade, com suas inerentes contradições, seu baluarte pessoal e artístico. Como ressaltou em seu discurso ao receber o Nobel de Literatura em 2010, ler e escrever são a maneira mas eficaz que encontramos de aliviar nossa condição precária, de "converter em possível o impossível".

.png) há 1 dia
2
há 1 dia
2






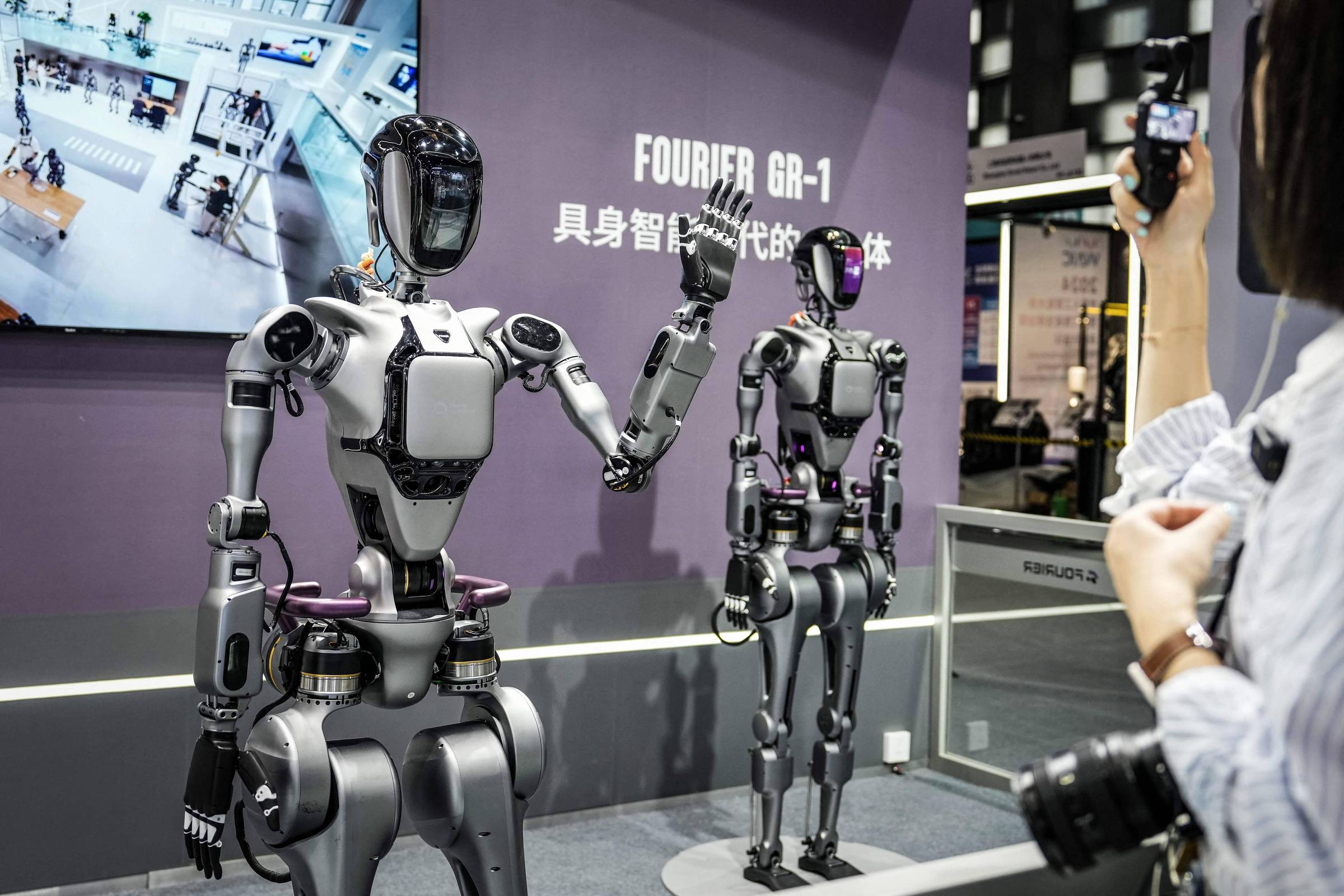

 English (US) ·
English (US) ·  Portuguese (BR) ·
Portuguese (BR) ·