Ao centro de uma pintura coloridíssima, está um boi magérrimo. Suas costelas marcadas pela fome contrastam com o cenário de pessoas segurando crianças, uma noiva e mobiliários típicos do sertão brasileiro.
A tela é de J. Cunha, artista baiano em cartaz pela primeira vez com uma exposição solo em São Paulo, "Corpo Tropical", na Estação Pinacoteca. "Apocalipse do Radinho de Pilha" faz parte de uma série das décadas de 1960 e 1970, que moldam a pop arte americana ao tropicalismo brasileiro para contar as epopeias sertanejas.
"A revolução que [os tropicalistas] fizeram na música bateu forte também no comportamento", diz o artista. Em meio a forte repressão da ditadura militar brasileira, as notícias da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos e os protestos de Maio de 1968 na França eram como combustível para o impulso criativo de Cunha. Mas o que foi definitivo para a sua produção, ele diz, foi o sertão.
Apesar de ter nascido e viver em Salvador, Cunha conta que tem descendência sertaneja pelo lado materno —incluindo um parente conhecido como Jararaca, que foi cangaceiro. Começou a desenhar muito cedo paisagens e barcos, e aprendeu os fundamentos técnicos do desenho ao se formar como torneiro mecânico.
Na década de 1960, quando ingressou na Universidade Federal da Bahia para se formar artista, viajava ao sudeste com frequência para visitar a Bienal de São Paulo, onde ficou impactado por artistas como Andy Warhol e Roy Lichtenstein.
Pouco depois, fundou ao lado de amigos o grupo de artistas Etzedrom. "Eles se propunham a mostrar um Nordeste rústico, rural, fazendo frente ao modelo do Brasil do milagre econômico e aberto à industrialização", diz Renato Menezes, curador da mostra.
Cunha também se dedicou a criar cenários para o Teatro Castro Alves antes de ingressar no Ilê Aiyê, bloco do Carnaval de Salvador dedicado à cultura afro. A exposição exibe as enormes peças em tecido assinadas pelo artista, que foram usadas na confecção das roupas e cenários dos desfiles nos últimos 25 anos.
"Eu trabalho símbolos e arquétipos [ligados a história e a cultura africana] para mostrar para as pessoas, porque o sistema público de ensino brasileiro não favorecia o ensino da cultura africana nas escolas", diz Cunha. Nos trajes, o trabalho artístico se tornou também didático.
Ainda que tenha se dedicado ao teatro e ao Carnaval, Cunha a pintura sempre foi uma constante em sua produção. "A pintura se torna uma espécie de reserva experimental de seu trabalho", afirma Menezes. Na década de 1990, por exemplo, o artista dez uma série de telas com pó de garrafa pet, que misturada à tinta acrílica proporcionava um aspecto áspero próprio do clima sertanejo.
A exposição traz também os trabalhos recentes de Cunha, telas enormes repletas de simbologias ligadas à cultura afro.
"Os artistas são, de alguma forma, reféns da institucionalização dos museus, e os museus conservam objetos estáveis, parados", diz Menezes sobre a primeira individual do artista no Sudeste. "O trabalho de J. Cunha excede essa lógica. Seu trabalho apresenta menos no tecido e mais no corpo dançando vestindo esse tecido, por exemplo. Hoje estamos em um momento em que as instituições estão enfrentando de maneira mais frontal o desafio de repensar essas formas de arte."
Cunha lembra que, quando visitava a Bienal há 50 anos, muitos artistas de outras regiões do Brasil decidiam se mudar para São Paulo com a promessa de sucesso —ilusão que não o seduziu. "Pensei: 'Não vou virar artista migrante para sofrer. Vou ficar aqui no meu calor, arrastando minha sandália de couro aqui na Bahia mesmo'."

.png) há 3 meses
3
há 3 meses
3


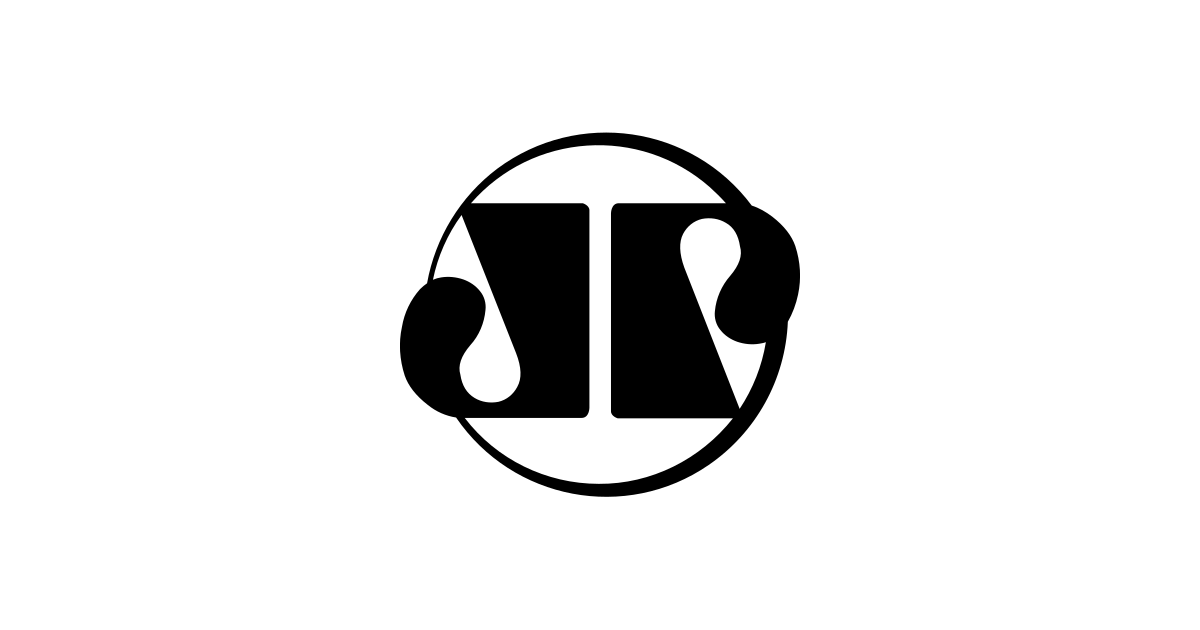





 English (US) ·
English (US) ·  Portuguese (BR) ·
Portuguese (BR) ·